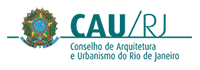O tema central do XXVII Congresso Internacional de Arquitetos/ UIA2020 – Todos os mundos. Um só mundo. Arquitetura 21 – se desdobra em quatro eixos que visam colocar ênfase em questões que se interpenetram e interpelam os arquitetos em sua prática contemporânea:Diversidade e Mistura; Mudanças e Emergências; Fragilidades e Desigualdades; Transitoriedades e Fluxos. Cada eixo temático coloca em foco um conjunto de questões correlatas – que poderíamos chamar de subeixos ou, melhor ainda, nuvens temáticas – tendo por objetivo favorecer discussões mais específicas. Eles visam acolher, de modo transversal, não só conferências, comunicações e workshops, mas também debates, exposições e demais iniciativas que perpassam o congresso.
“DIVERSIDADE E MISTURA”
Arquitetos e urbanistas vivem mundus novus que não se definem apenas pelos seus traços visíveis. Cambiantes e híbridos, estes mundos exibem planetariamente certos aspectos uniformes e genéricos, mas que se declinam em uma multiplicidade de formas, escalas, tempos, ritmos e práticas políticas e sociais. Neste eixo, as práticas arquitetônicas serão discutidas levando-se em conta a diversidade e mistura de culturas em quatro planos: antropológico e político; social e econômico; temporal; e no interior do próprio campo profissional.
- DIVERSIDADE CULTURAL E CIDADANIA – RECONHECER O COMUM
Ainda que singular em cada ponto, a mutação que se observa no momento contemporâneo é sistêmica: suas guerras são planetárias, seus efeitos são globais, sua movimentação é contínua, seu alcance não tem limites. Sua natureza antropófaga incita à reflexão e exige novas atitudes de projeto. Trata-se de uma revolução em outros moldes, que coloca os mesmos desafios para arquitetos nos quatro quadrantes: reconhecer a diversidade, pensar as diferenças, construir um mundo comum e, ao mesmo tempo, em contínuo movimento.
Neste subeixo, serão discutidas ações e experiências arquitetônicas e urbanísticas em diferentes escalas e territórios. A arquitetura global e o reconhecimento das singularidades culturais: multiculturalismo, mistura, mestiçagem. As relações entre arquitetura, política e poder. Modos de habitar: os arquitetos e as arquiteturas da resistência. As práticas arquitetônicas e o reconhecimento das diferenças de gênero. As práticas da arquitetura e a diversidade e as misturas étnicas. A arquitetura e a construção e partilha do comum: o que são projetos colaborativos? O que significa participação?
- DIVERSIDADE SOCIAL E ECONÔMICA – COMO CONSTRUIR O COMUM?
A constatação da diversidade cultural, social e econômica mostrou os limites do funcionalismo, da setorização e de uma visão de cidade dividida, estratificada e segregada. Mostrou ainda sua insustentabilidade política que explode em diferentes formas de enclaves de riqueza e de exclusão, em lutas e conflitos urbanos em prol da igualdade de direitos urbanísticos, na degradação de recursos ambientais e econômicos, na fragilização da esfera pública e dos espaços públicos. Serão aqui enfocadas as possibilidades de ação e as experiências que fomentam a interação e a mistura de gênero, de renda, de visões de mundo, enfrentando a difícil equação Todos os mundos - um só mundo.
Neste subeixo, são tratadas as experiências que buscam ampliar a reflexão crítica sobre os limites do planejamento em sua forma funcionalista, classificatória, top down promovendo sua necessária revisão e atualização a partir de uma visão complexa e plural das culturas. Os princípios de previsão e de precaução hoje e o mundo que desejamos construir. As práticas da arquitetura e as poéticas do político: distopia, utopia, atopia. Do projeto à cidade passando pelo canteiro de obras: racionalização, poupança ou desperdício da riqueza coletiva. Os arquitetos e os vazios urbanos e os maus usos da cidade: o valor do solo urbano e de suas infraestruturas como trabalho e investimento da poupança individual e coletiva. A repartição de bens e serviços na cidade. Arquiteturas híbridas: misturas de usos, misturas sociais, misturas de escalas: quais as tendências nas cidades hoje? As práticas da arquitetura frente às formas de segregação ou de auto enclausuramento: os enclaves visíveis e invisíveis. A sustentabilidade da cidade: a resiliência de grupos, sítios, recursos, atividades, modos de vida e as práticas arquitetônicas.
- DIVERSIDADE TEMPORAL - O QUE PRESERVAR EM COMUM
As mudanças que se acumulam nas últimas décadas desvelaram para os arquitetos para além da diversidade de culturas, formas de pensar o tempo. Tornaram-se não só evidentes os ritmos e as temporalidades urbanas, mas também complexas suas coexistências. Entretanto cabe perguntar se nós arquitetos nos lembramos que a ideia de tempo é um dos fundamentos da própria arquitetura? Toda arquitetura, se ergue como gesto que ambiciona ser uma forma de resistência e de transgressão em relação à efemeridade e a precariedade da vida. Desejo de duração e de permanência. Mas como guardar este sentido arcaico em um mundo de mutação acelerada? Como promover o diálogo entre os gestos do passado com as demandas do presente? Como fazer coexistir ideias de tempos, de memórias e de rememoração que não são as mesmas? Como dar espaço à emergência do novo e que nada mais é que preservação do comum?
Este eixo reúne reflexões e experiências que lidam com a memória coletiva e com a preservação de monumentos e da cultura material de diferentes grupos. Serão discutidas a condição contemporânea em sua mutabilidade e a preservação do que se considera patrimônio de uma cultura. As lutas simbólicas e de construção identitária e sua inscrição material e visível. Permanências, impermanências, restaurações, manutenções e intervenções contemporâneas em monumentos e sítios protegidos. Materialidade e imaterialidade nas práticas de rememoração. Os riscos dos bens comuns e as ruínas da patrimonialização.
Como preservar o comum? O que preservar em comum?
- DIVERSIDADE DE CULTURAS ARQUITETÔNICAS – A OBRA ABERTA E COMUM
Para os arquitetos os câmbios globais e seus impactos diferenciados no momento contemporâneo, devido à intensidade das interações que são tecidas com a diferença e com o diferente, configuram um campo de ação incerto e de natureza, até certo ponto, desconhecida. Contudo, não se trata de uma condição genérica, abstrata ou que lhe é externa. Trata-se, assim, de um sistema global que exige experimentação e onde o projeto e a arquitetura mostram-se como uma hipótese - como uma obra aberta.
Entretanto, sendo a arquitetura arte pública por excelência, é na cidade, que o exercício exploratório do projeto e a ideia da arquitetura como obra aberta encontram ancoragem e possibilidade de realização. De fato, é na cidade - lugar da mediação e negociação política, mas também da destruição, continuada de muralhas e fronteiras de diferentes ordens - que esse sistema dinâmico desenha situações que convidam os arquitetos a repensarem suas práticas a partir do contraste, do conflito, do precário, do efêmero e na observação e no aprendizado com a inteligência diferenciada das culturas.
Neste subeixo, propõe-se uma discussão sobre a própria prática da arquitetura vista com um campo de forças nas cidades e em um sistema global onde diferentes culturas arquitetônicas constroem seus parâmetros, seus campos de ação e onde sua definição coletiva conquista espaço, lugar e legitimidade. Como os arquitetos vêm pensando as culturas citadinas e sua própria cultura? Quais os temas que elegem como seus? Como consideram a urbanização generalizada, a cidade e a cidadania? Como têm levado em conta a diversidade, os muros e enclaves? Como têm pensando o patrimônio formal, tecnológico, político, ético e estético e o legado das ações de seus pares no passado e no presente? Como vêm refletindo sobre seu vocabulário, suas práticas, suas instituições? O que suas ações visam legar ao futuro? Quais seus horizontes de ação? O que tem aprendido no cotidiano e nas ruas?
“MUDANÇAS E EMERGÊNCIAS”
O mundo em que vivemos passa por intensas mudanças, colocando em cheque velhos paradigmas e promovendo a emergência de novos. Neste eixo, as mudanças do mundo contemporâneo e seus reflexos no campo da arquitetura serão discutidas a partir de três dimensões: social, ambiental (climática) e tecnológica.
- TRANSFORMAÇÕES SOCIAIS E A EMERGÊNCIA DE UM NOVO ARQUITETO
A emergência e difusão de processos participativos de projeto e construção coloca em cheque o arquiteto autocrata. A morte do arquiteto demiurgo abre espaço para a emergência de um novo arquiteto, mais sensível aos desejos e demandas dos diversos atores envolvidos nos seus projetos, dos clientes e usuários aos construtores e à sociedade em geral.
Neste subeixo, será discutido o papel do arquiteto nos processos participativos de projeto e construção, bem como será debatido o papel do arquiteto em recentes movimentos sociais de ocupação e apropriação de espaços urbanos, como o Occupy Wall Street em Nova York, o Occupy Taksim em Istambul e o Ocupe Estelita, em Recife.
- O ARQUITETO E A REDUÇÃO DOS EFEITOS DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS
A mesma revolução industrial da qual surgiram o aço, o concreto e o elevador, que configuraram a arquitetura do último século, promoveu uma intensa mudança climática que ameaça o planeta e suas cidades. De acordo com o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (UNEP), “O aquecimento do sistema climático é indiscutível, e desde 1950, muitas das mudanças observadas são inéditas em milênios. A atmosfera e o oceano se aqueceram, as quantidades de neve e gelo diminuíram, e o nível do mar se elevou. Observam-se concentrações atmosféricas de dióxido de carbono, metano e óxido nitroso inéditas pelo menos nos últimos 800 mil anos.”
Neste subeixo, será discutido tanto o papel do arquiteto na redução das causas dessas mudanças climáticas, quanto na mitigação das suas consequências. Serão abordados temas como arquitetura sustentável, reciclagem de materiais e outras soluções de projeto e canteiro voltadas à redução da emissão de gás carbônico. Será discutida ainda o lugar da arquitetura frente a catástrofes como tsunamis, terremotos, furacões e inundações, seja no atendimento emergencial às populações desabrigadas, seja no processo de reconstrução das aglomerações humanas atingidas.
- AS NOVAS TECNOLOGIAS, O CAMPO DA ARQUITETURA - AS PONTES PARA UM COMUM?
A globalização das últimas décadas se apoiou e ao mesmo tempo difundiu novas tecnologias de informação e comunicação que têm promovidos importantes transformações na sociedade contemporânea e trazem tanto impactos como insumos importantes. No campo da arquitetura, isso se reflete em diversos aspectos, da incorporação irreversível de softwares no processo de projeto às possibilidades de profissionais trabalharem em rede, pela internet, estando a milhares de quilômetros de distância um dos outros. As novas tecnologias construtivas, por sua vez, também têm contribuído para a inovação na arquitetura, promovendo significativas transformações em escala global.
Neste subeixo, será discutido o papel do arquiteto frente às transformações no processo de produção da arquitetura seja pelas novas ferramentas digitais, seja pelos novos materiais e tecnologias construtivas, seja pelas questões de modo de vida e de cidadania que potencialmente oferecem. De fato, o papel representado pelas ferramentas digitais para as cidades e para a arquitetura ultrapassam sua tecnicidade. Assim, aqui serão enfocadas também reflexões e experiências arquitetônicas que contemplem a diversidade do mundo global que as novas mídias digitais permitem, seus limites, as assimetrias socais que engendram, mas também as potencialidades e as possibilidades de futuro que com elas se vislumbram. Digital Polis: novas formas do político, da política e de cidade: as plataformas interativas e novas formas de participação e gestão. A democratização e a assimetria no acesso à informação. Digital Humanities: tecnologias locais e tradicionais frente à difusão mundial de novas tecnologias. As relações entre acesso a dados, formulação de escolhas e conhecimento. Como têm os arquitetos se servido das novas tecnologias de informação e comunicação na construção da cidade de hoje e do amanhã?
“FRAGILIDADES E DESIGUALDADES”
Vivemos em um mundo urbano no qual as cidades são os atores centrais conectados por redes globais. São elas o resultado da transformação de uma civilização antes citadina e rural, agora urbana, surpreendentemente ocorrida em menos de um século. A rapidez dessa mudança e a impossibilidade de responder adequadamente às demandas daí decorrentes, resultou em ocupações não orientadas pelos cânones tradicionais da arquitetura e do urbanismo, referenciados na tradição modernista, e sobretudo funcionalista. As cidades contemporâneas convivem com formas de ocupação - favelas, cortiços, não consentidas, moradores de ruas, abrigos para refugiados e imigrantes – que demandam soluções emergentes e obrigam os arquitetos e urbanistas a explorar novas formas de atuação.
Os desafios mundiais são enormes: 1 bilhão de pessoas vivem em assentamentos precários; 2,5 bilhões não têm acesso a infraestrutura de saneamento e 1,8 não têm acesso a água limpa; em 2016, mais de 70 milhões de refugiados foram deslocados. Acrescente-se ainda, os números da violência urbana: só no Brasil, em 2016, ocorreram 60 mil mortes violentas.
Essa territorialidade e suas dimensões sociais, ainda pouco explorada como campo de trabalho da arquitetura e do urbanismo, será discutida em três subeixos: perfil da demanda, formas de intervenção e a ampliação da participação.
- TODOS OS MUNDOS URBANOS: O QUE É MESMO PERIFERIA?
No século XXI, a rapidez da transformação urbana é cada vez maior, as comunicações se aceleram com base nas tecnologias que se renovam a cada hora. Agora, as pessoas se conectam com facilidade, as redes sociais se fortalecem e trocam experiências, as mulheres assumem um papel protagonista na sociedade. Uma única certeza prevalece: as verdades absolutas estão desaparecendo.
Ao tratar das fragilidades e desigualdades urbanas é preciso abandonar os conceitos tradicionais: ‘pobres moram em periferias’; ‘pobres moram em favelas’, ‘as periferias são uniformes’, ‘déficit habitacional se resolve com programas massivos de construção de casas’. Os arquitetos e urbanistas estão diante de cidadãos cada dia mais exigentes e informados que vivem em bairros com características específicas que conformam sua identidade. Programas universalizados não atendem à demanda desse cidadão e tendem à precarização.
Aqui, serão discutidas formas de individualizar o cidadão e sua coletividade, objetos de programas governamentais de empresas ou do terceiro setor. Os arquitetos aprendem a definir o programa do projeto a partir das demandas de cada cliente individual ou de programas coletivos. Agora trata-se de aprender a definir programas de larga escala, não a partir de necessidades universais, mas sim, entendendo as especificidades de cada bairro, da sua integração com a cidade e com programas complementares.
Busca-se, aqui, debater as experiências aprendidas que colaboram para a construção dessa agenda contemporânea que se expressa por um cliente coletivo exigente e informado, que não mora em uma ‘periferia’, que não tem desejos e demandas ‘uniformes’ e que quer e deve ser ouvido.
- DIFERENTES FORMAS DE ENFRENTAR A PRECARIEDADE URBANA
Frente ao quadro de fragilidades e precariedades urbanas, as políticas públicas em geral têm privilegiado a produção em grande escala de conjuntos habitacionais que não respondem às reais demandas dos moradores, como proximidade de equipamentos públicos e empregos e facilidade de acesso às redes de transporte. A adoção desse modelo como único resulta no aumento do número de pessoas que optam por continuar morando em favelas, em geral localizadas mais próximas dos serviços urbanos básicos.
Como efeito perverso desse modelo que se transformou em universal, observa-se o aumento das desigualdades urbanas, o crescimento dos assentamentos precários, o abandono das áreas centrais infraestruturadas e uma indesejável segregação social.
Por outro lado, a parte da cidade contemporânea erigida por seus próprios moradores, sempre carentes de serviços básicos, encontrou formas de sobreviver às dificuldades de seu cotidiano, centrada no estabelecimento de redes sociais e de compartilhamento de soluções. Para esses bairros e seus moradores é necessário desenvolver programas e ações adequados a cada uma das realidades específicas que compõem o amplo universo das cidades no mundo contemporâneo.
Busca-se nesse subeixo debater um conjunto de boas práticas abrangentes, de modo a constituir um acervo da produção que pode servir de referência para situações semelhantes, mas que possibilitem sua adaptação a cada uma das situações específicas. Experiências de toda ordem devem ser conhecidas e divulgadas: programas de urbanização de favelas, requalificação de edifícios em áreas centrais para a moradia, regularização fundiária, autoconstrução assistida, universalização do acesso a redes de saneamento básico, moradias para necessidades especiais, entre outros.
- AMPLIAR AS FORMAS DE CONEXÃO E PARTICIPAÇÃO
A dinâmica da sociedade contemporânea põe em cheque os métodos de participação tradicionalmente conhecidos. É hora de atualizar metodologias que possibilitem que os diversos atores das políticas urbanas interajam através das novas tecnologias de comunicação. A dimensão da precariedade urbana mundial, impõe a busca de inovação no campo das políticas públicas e, principalmente, novas formas de conexão dos envolvidos nesses processos.
Na construção das formas de atuar do arquiteto urbanista frente aos desafios da parcela da cidade carente de serviços e de infraestrutura, busca-se, aqui, discutir sobre as possibilidades oferecidas por novas tecnologias que permitem a participação dos principais atores na definição dos programas e ações que influem em sua vida cotidiana.
Atualmente, o acesso às novas tecnologias de comunicação e participação são quase universais, principalmente em função da facilidade de acesso e baixos custos. Se isso procede, impõe-se a busca de formas mais acessíveis de participação nos processos de decisão que influem na inclusão daqueles que habitam os bairros precários das cidades.
“TRANSITORIEDADES E FLUXOS”
Em menos de duas décadas uma era digital se afirmou, ampliando o acesso a dados, promovendo novos fluxos na circulação das informações, novos modos de contato, interação e comunicação, novos modos de vida. Este movimento de difusão é hoje planetário e provoca mutações antropológicas, fomentando graças a democratização de imagens, notícias, experiências, enfim um cenário novo no campo da interação e da conexão, quase sem limites - transnacional - entre povos e culturas.
Estas ferramentas e as possibilidades diversas e variadas que passaram a oferecer não só amplificaram em graus desconhecidos os intercâmbios culturais. Fortaleceram redes de trocas comerciais, delocalizaram indústrias e serviços e em seu ritmo de inovação e aperfeiçoamento técnico e logístico modificaram a percepção do tempo, do trabalho, das formas de sociabilidade que, de certo modo, as redes sociais explicitam. Provocaram também a expansão, morte ou encolhimento econômico de milhares de cidades, ao mesmo tempo que auxiliaram na construção de uma cultura globalmente menos enraizada e mais nômade.
Ao se pensar, por sua vez, o próprio corpo de cada indivíduo como suporte de diferentes tecnologias móveis que o expandem, operou-se um câmbio na ideia de trânsito e deslocamento. Esse conjunto de mudanças faz hoje com que mobilidade e fluxos também balizem a experiência contemporânea. Enfim, no exercício dessa nova condição citadina e urbana, indivíduos e grupos se identificam, se reconhecem e se comparam entre si em seus direitos, definindo novas formas também de prática e luta política.
Neste eixo, as questões de mobilidade e de fluxos na escala planetária serão discutidas a partir de quatro movimentos e fluxos que incidem diretamente sobre a prática da arquitetura: o demográfico, o temporal, o da escala e o da própria formação do arquiteto.
- MOBILIDADE E FLUXO DAS MIGRAÇÕES CONTEMPORÂNEAS - CIDADE E CIDADANIA
Graças à facilidade de informações, e em alguns casos, as possibilidades de transporte low cost, observam-se hoje grandes deslocamentos populacionais movidos por escolhas de diferentes naturezas: políticas, econômicas, afetivas.
Neste subeixo, serão debatidos os processos de refundação, criação de cidades-novas, resiliência e morte das cidades e o papel dos arquitetos. A aceleração dos câmbios demográficos e seu impacto na infraestrutura das cidades. O esgotamento e a gestão complexa dos recursos naturais em contextos de intermitência e sazonalidade populacional. A reinvenção do futuro das cidades. O lugar do planejamento, da previsão e da participação. As situações de crise e as respostas arquitetônicas diante de catástrofes naturais ou políticas. As mudanças no estatuto da habitação. O arquiteto sem fronteiras e a questão humanitária: os abrigos temporários em tempos de guerras, diásporas e exclusões.
- A ARQUITETURA E O URBANISMO DIANTE DO TRANSITÓRIO
Neste subeixo, explora-se as experiências sobre o impacto nas formas de pensar a arquitetura e o urbanismo frente ao efêmero. As mudanças em relação ao espaços e equipamentos públicos. Como pensar a escala, o tipo ou a flexibilidade? Como habitar em trânsito? A arquitetura e o urbanismo para os grandes eventos temporários. As cidades, suas infraestruturas e a economia dos grandes fluxos das populações em trânsito temporário ou intermitente. Os legados de Copas, das Olimpíadas, das Exposições Mundiais nas últimas duas décadas.
- DILUIÇÃO DE FRONTEIRAS NACIONAIS, FORMAÇÃO E PRÁTICA PROFISSIONAL
Nesse subeixo, será discutida a globalização da arquitetura e da formação do arquiteto. O arquiteto à deriva: abertura, estabilidade e crise dos novos mercados. Diplomação, capacitação: emprego e desemprego em um quadro econômico incerto. As ações, as experiências e o impacto na atuação dos grandes escritórios de arquitetura transnacionais. As montagens temporárias das cooperações profissionais transnacionais e seus fluxos de expertise. Quem faz o que? Os desafios e as assimetrias na aplicação da Convenção de Bolonha - avanços e impasses?
- ARQUITETURA LENTA / SLOW ARCHITECTURE - DIÁLOGOS
A arquitetura e o urbanismo dos homens lentos: cotidiano, pequena escala: a slow architecture. Novos rurais ou, enfim, novos urbanos: as migrações para as cidades pequenas ou para o campo graças as possibilidades oferecidas pelas novas tecnologias. O desenvolvimento de sistemas construtivos para atender as demandas de um mundo que se modifica rapidamente. Forma e tectônica: a arquitetura e a indústria da construção. Matérias e materiais; a permanência dos saberes construtivos. Sistemas construtivos flexíveis. O investimento em antigas tradições construtivas, a reciclagem de materiais, a sustentabilidade. Os desafios do projeto: a obra aberta.
Como a arquitetura pode contribuir para equacionar os problemas e assimetrias provocados pela reconfiguração das fronteiras nacionais e culturais, pelo nomadismo contemporâneo ou pelas grandes migrações?